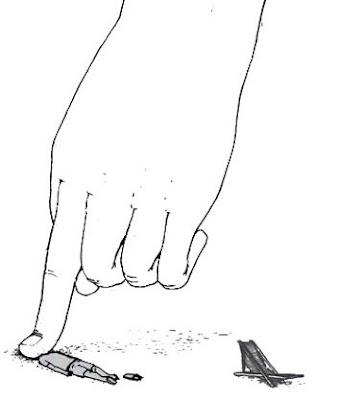sábado, 2 de agosto de 2008
Se ali o céu, acúmulo de ar,
ourografia nebulosa,
água corrente o céu --- via régia ---
linguaviagem em direção ao sabre lúcido,
à prosa da piscina vista do belvedere.
Ouçamos, pois, como soa o céu:
sem anular o sonho, antes o vivifica.
Se o céu parece comum,
é porque não o vimos ainda.
Despojar a palavra da palavra,
confessá-la em música.
O céu passou, mas o rastro do céu,
fixo nesta matéria fina de toda certeza
--- a palavra ---
permanece ao alcance do sopro
que a língua da tempestade cura.
Confraria: Todos perguntam ao senhor: “qual é a matéria de sua poesia?”. Nós perguntamos: o que é matéria de poesia?
Manoel: Pra meu gosto matéria de poesia é a palavra Poesia, pra mim é armação de palavras com um canto dentro. O canto é que comanda o verso até chegar a um encantamento. O canto pode ter até ritmo de samba ou forró.
Confraria: Quantos cagos são necessários para desmoralizar um sublime?
Manoel: Você sabe que o sublime é teimoso e bem guardado pelos aristocratas. Carlitos desmoralizou o sublime com a sua bengalinha de vagabundo e a sua cartola. A cartola e a bengalinha de Carlitos foram cagos geniais sobre o sublime dos aristocratas. O meu cago foi modesto e nem mil que eu desse no sublime valeriam como a bengala de Carlitos.
Confraria: O senhor acha que a qualidade da poesia brasileira de hoje é a causa do aquecimento global?
Manoel: Acho que a poesia não causa nada porque a poesia é nada. E se o Nada desaparecer a poesia acaba.
Confraria: Em meio ao pregão entre poetas “eruditos” e “populares”, dê seu lance: é possível realmente uma poesia afastada da realidade ou toda poesia é, afinal, uma outra realidade.
Manoel: Acho que poesia é uma outra realidade. Ela é produto das visões de um poeta. E as visões trazem por dentro nossas loucuras, nossas fantasias e coisinhas à toa, sem procedência.
Confraria: O que é mais virtual, a poesia publicada na internet ou a poesia que um poeta não conseguiu publicar?
Manoel: Poesia virtual há de ser como a transa virtual. No meu tempo de menino transa virtual a gente chamava de matar bentevi a soco. Na internet não sei como chamam a poesia virtual.
Esta matéria foi publicada originalmente na revista cultural “Confraria do vento”.